Disco da semana – 16 LPs para mergulhar no fantástico caos do Free Jazz
O free jazz se encaixa como o caso de um estilo musical sobre o qual é rara uma opinião contida. É usual que se ame ou odeie. Não à toa, dentro do próprio jazz como um todo – convenhamos, um gênero de admiradores extremamente puristas, especialmente até a década de 1970 – a ideia de rejeição de estruturas de melodia e acordes como forma de experimentação e criação, definitivamente não foi uma unanimidade tratando-se de recepção. Muitos sequer reconheciam o free jazz como música. Ornette Coleman, seu pioneiro, foi rechaçado por plateias e músicos, Eric Dolphy, compositor inovador, foi obrigado a passar um tempo na Europa devido a hostilidades sofridas nos Estados Unidos, e o próprio John Coltrane, quando, fascinado por Coleman e Albert Ayler, seguiu por diferentes caminhos, perdeu muitos de seus fãs antigos.
É fantástico como, até os dias de hoje, o free jazz tem a capacidade de causar espanto e impactar a quem ouve. Seja de forma positiva ou negativa, sempre toca poderosamente as pessoas. Pois então, como forma de celebra-lo, selecionei 16 clássicos do gênero.
Mergulhemos no fantástico mundo caótico do free jazz!
Ornette Coleman – The Shape of Jazz to Come (1959)

É impossível falar em free jazz sem falar em Ornette Coleman, afinal, o gênero recebeu a alcunha através do lançamento de seu álbum “Free Jazz: A Collective Improvisation” (1961). Antes disso, Ornette já havia sido pioneiro e servido como alicerce para o estilo através, especialmente de seu clássico “The Shape of Jazz to Come”.
Lançado cerca de dois meses após Kind of Blue – o disco de jazz mais vendido de todos os tempos – The Shape of Jazz to Come mostra Coleman navegando em direções sonoras totalmente diferentes e consideravelmente inusitadas para a época. É o álbum que, como diz o título (traduzido bruscamente para “A Forma do Jazz por vir”), redefiniu o gênero, quebrou paradigmas e libertou o jazz de suas restrições formais.
Leia o artigo completo sobre The Shape of Jazz to Come
Eric Dolphy – Out to Lunch (1964)

Gravado apenas quatro meses antes da trágica e precoce morte de Eric Dolphy aos 36 anos de idade, “Out to Lunch” é outro pivô do estilo. É também o primeiro e único disco do compositor lançado pela Blue Note e gravado nos estúdios do proeminente engenheiro de som Rudy Van Gelder.
Ao lado apenas de “Iron Man” – álbum de lançamento póstumo gravado pelo músico em 1963 e lançado apenas em 1968 – é o trabalho mais subversivo de sua carreira.
Tal subversão começa pela abordagem do baterista Tony Williams, um prodígio que então tinha 18 anos, e aos 17 já havia participado do LP “Seven Steps to Heaven” de Miles Davis. No ano seguinte à participação em Out to Lunch, proporia a Miles que tocassem “anti-música”. Tony realmente faz algo diferente de tudo até então, repensando o uso de cada componente da bateria, do prato de condução aos tons, com levadas que variam incessantemente de maneira improvisada.
É evidente que Williams não é o único ao evitar o óbvio aqui. Bobby Hutcherson toca seu vibrafone de maneira única e providencial ao longo de todo o álbum, entregando uma atmosfera misteriosa e futurista. Fechando a sessão rítmica está o não menos ousado Richard Davis (baixo). Dolphy passeia pelo Sax alto, clarinete baixo e flauta, e, no trompete está o notório Freddie Hubbard.
Albert Ayler – Spiritual Unity (1965)

Albert Ayler, um grande entusiasta de Ornette Coleman, dedicou sua carreira à novas formas de expressão dentro do jazz, quebrando padrões que começavam a ser subvertidos. Assim como Coleman, Ayler, por conta de seu pioneirismo, sofreu inicialmente uma enorme contestação por parte de audiências, críticos e até músicos. Posteriormente se tornaria uma grande influência para artistas como o próprio John Coltrane – além da admiração retratada do saxofonista, é possível ouvir a influência do trabalho de Ayler em discos como Meditations (1965) e Sun Ship (1971).
O LP foi gravado em um pequeno estúdio de uma então pequena gravadora chamada ESP, onde o trio formado por Gary Peacock no baixo, Sunny Murray na bateria e Ayler no sax tenor, entrega trinta minutos de improviso visceral de intensidade pujante – minutos esses que entrariam para a história do jazz.
Sun Ra – Nothing Is… (1966)

Músico, compositor, poeta e filósofo, Sun Ra foi um dos mais folclóricos e excêntricos compositores do jazz. O tecladista tem uma discografia de mais de 100 álbuns e merece um artigo à parte.
Em 1966, ele e sua banda fizeram uma turnê por universidades de Nova Iorque – financiada pelo Conselho de Artes de Nova Iorque. “Nothing Is…” reúne faixas gravadas durante a apresentação do grupo na Universidade St. Lawrence.
Aqui a banda – em que o fantástico Clifford Jarvis assume as baquetas – navega por intensos e esotéricos improvisos que, como grande parte do trabalho do compositor, constroem imagens em nossos imaginários. O pianista, que tanto olhava para o Cosmos e para ele dedicava sua obra, soa como se estivesse em plena navegação entre os corpos celestes. A faixa “Exotic Forest”, por exemplo, parece tomar parte em um ritual em uma floresta alienígena, e “Shadow World”, representar a chegada abrupta da tripulação de uma nave à um mundo desconhecido – como o título diz, “Mundo das Sombras”.
Na contracapa do LP original estão duas poesias autorais: Saga of Resistance e The Garden of Eatened.
Don Cherry – Symphony for Improvisers (1966)

Ex-integrante do grupo pioneiro de Ornette Coleman, Cherry deixou a banda em 1965 para enveredar por uma carreira solo. Já no ano seguinte lançou “The Avant-Garde” ao lado de John Coltrane, além de mais três trabalhos solo. Dentre eles está “Symphony for Improvisers”, o segundo lançado pela Blue Note.
Trata-se de uma exploração sônica dentro do free jazz, consistindo em dois movimentos de pouco mais de 19 minutos cada. No primeiro, o baterista Ed Blackwell conduz uma frenesi poli rítmica ao lado dos baixistas Henry Grimes e Jenny-Clark, formando a base para os improvisos dos sopros de Gato Barbieri, Pharoah Sanders e Cherry. O vibrafone de Karl Berger também agrega à sinergia de elementos, executando diversas variações.
O segundo movimento, cheio de nuances, começa mais contido e se desenvolve para culminar em viscerais e velozes improvisos regados de diálogos entre os sopros, contando com um virtuoso e breve solo de bateria.
Sunny Murray – Sunny Murray (1966)
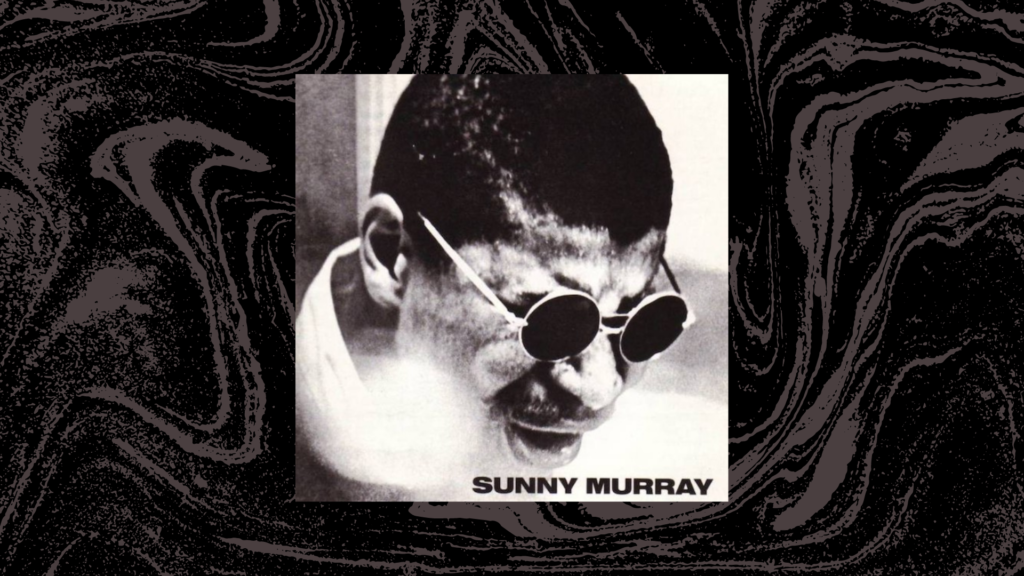
Pré-datando a “Machine Gun” (1968) de Peter Brotzmann em dois anos, o baterista Sunny Murray – que pouco antes havia gravado o supracitado “Spiritual Unity” ao lado de Albert Ayler – já explora em seu álbum autointitulado uma abordagem parecida à de Brotzmann, tocando como um touro, de maneira incessante e caótica. Aqui a bateria de Murray parece brigar com os metais, em comoção anárquica. Durante momentos os sopros esboçam algo de concreto que logo deságua desmanchando-se no mais puro abstrato. Os pratos do baterista por vezes dialogam com sopros formando uma sonoridade que uiva como o vento fantasmagórico de um fim de tarde sombrio.
Cecil Taylor – Conquistador! (1966)

Um dos pianistas mais transgressores do jazz, Cecil Taylor tem “Unit Structures”– lançado no mesmo ano também pela Blue Note – como seu disco mais reconhecido. Nele o músico e sua banda parecem romper qualquer tipo de estrutura. Em “Conquistador!”, por outro lado, é apresentado um trabalho mais versátil, dinâmico e repleto de texturas e nuances. A produção de Rudy Van Gelder também soa melhor aqui do que no LP antecessor. Destaque também para os dois baixistas, Henry Grimes e Alan Silva.
Andrew Hill – Compulsion!!!! (1967)

Tendo como um de seus primeiros trabalhos em estúdio uma gravação ao lado de Roland Kirk em seu LP “Domino” (1962), era de se esperar que o pianista Andrew Hill desenvolvesse uma veia vanguardista. Em seu álbum mais conhecido, “A Point of Departure” (1965), já é possível ouvir um forte flerte com o free jazz, mas é em “Compulsion!!!!”, gravado ainda em 1965 e lançado dois anos depois, que suas experimentações tomam um rumo ainda mais intenso.
Na época, “Drums of Passion” – cultuado disco do percussionista nigeriano Babatunde Olatunji – era mencionado com frequência nos círculos de músicos de jazz e a influência de seus poderosos poli ritmos se faz presente nesse trabalho, que conta com dois percussionistas: Nadi Qamar na kalimba, e Renaud Simons nas Congas (esse é o único trabalho que se tem registrado de Renaud como músico). Na bateria, o notório Joe Chambers dialoga em caótica harmonia ao lado dos companheiros rítmicos, e na formação também está o não menos importante Freddie Hubbard (trompete e fliscorne).
Archie Shepp – The Magic of Ju-ju (1968)

Antes de tornar-se um dos mais célebres saxofonistas da onda do free jazz sessentista, Shepp já tinha em seu currículo participações ao lado de grandes nomes da vanguarda, como Cecil Taylor e Ornette Coleman. Em 1965 tocou com seu ídolo John Coltrane em “Ascension” (1965) – um dos mais cultuados trabalhos da fase experimental do compositor. Foi através de Coltrane que conseguiu um contrato na gravadora Impulse!, selo que lançaria “The Magic of Ju-ju”, um de seus primeiros álbuns de estúdio.
O LP, visceral e enérgico, abre com percussões tribais frenéticas e incessantes solos de saxofone que se fazem presentes na primeira faixa – o carro-chefe de 18 minutos e meio que dá nome ao disco. Shepp toca como numa incansável e poderosa dança esotérica da qual é possível sentir a forte influência de Coltrane. “Sorry ‘Bout That”, começa convencional e gradativamente mergulha em profundo caos para fechar o álbum.
Charlie Haden – Liberation Music Orchestra (1968)

1968 foi um ano de grande atrito político em contexto mundial. A guerra do Vietnã estava em plenas turbinas e o assassinato de Ernesto Che Guevara – ocorrido um ano antes – ainda ressoava sob as Américas. Especialmente nos Estados Unidos, o rock e o folk passaram a representar aquela geração jovem e inflamada, ao mesmo tempo em que o jazz lutava para manter sua visibilidade.
Chalie Haden – o icônico baixista de The Shape of Jazz to Come (e tantos outros) – era também politicamente revolucionário. Não à toa foi preso em Portugal em 1971 por homenagear Che Guevara em um show que ocorrera meses após a morte de Antonio Salazar, ainda em meio à ditadura portuguesa.
Em 1968, lançava seu primeiro álbum como líder, “Liberation Music Orchestra”, homenageando a música socialista, com temáticas que vão desde a guerra civil espanhola até o movimento de libertação da sul-africano, e, é claro, Cuba – como se ouve no tributo “Song for Che”.
No grupo, o time de craques incluía ícones como o saxofonista argentino Gato Barbieri e o trompetista – e parceiro de longa data de Haden – Don Cherry. Os arranjos são da prolífica pianista Carla Bley.
Pharoah Sanders – Karma (1969)

Depois de uma série de trabalhos apoiando John Coltrane, Sanders lançaria seu primeiro LP solo, “Pharaoh” ainda em 1965. O terceiro, “Karma”, sairia pelo selo Instant em 1969. O saxofonista é um dos mais proeminentes da linhagem do “jazz espiritual”, que remete a nomes como Alice Coltrane e Sun Ra.
Karma é catártico e é possível ouvir sua influência até as novas gerações. Tanto “The Creator Has a Master Plan” – faixa de 37 minutos que abre o LP – quanto “Colours” – segunda e última faixa – soam como algo que Kamasi Washington viria a gravar, por exemplo. Aqui Sanders, ao lado de sua banda e do poeta Leon Tomas – letrista e vocalista do álbum – mostra que até o free jazz pode ser acessível.
Anthony Braxton – For Alto (1969)

Não seria absurdo afirmar que “For Alto” – quarto álbum de estúdio do saxofonista de Chicago, Anthony Braxton – é um dos discos mais inconvencionais de todos os tempos. Trata-se de pouco mais de uma hora e dez minutos do músico improvisando sozinho com seu sax alto. Mais do que isso, trata-se do primeiro registro extenso de algo parecido.
O álbum é uma expressão artística apaixonada e ousada que desafiou completamente as normas. Pretensiosa para alguns, revolucionária para muitos mais, a obra abriu as portas para que Evan Parker, Peter Brotzmann dentre tantos outros artistas se arriscassem em projetos tocando instrumentos solo.
Cada faixa do LP é dedicada a um amigo ou influência artística – dentre tais, são homenageados personagens como John Cage e Cecil Taylor – em músicas onde Braxton expressa seus sentimentos através do instrumento, que hora chora, hora vocifera, mimetizando as imagens do fluxo de consciência do músico, expostas de maneira arrebatadora e instigante.
Miles Davis – Bitches Brew (1970)

“In a Silent Way” (1969) – lançamento anterior e primeiro álbum elétrico de Davis – foi o ponto de partida para que o compositor começasse a explorar novos territórios sonoros. É isso que ouvimos em “Bitches Brew”, um Magnum Opus do jazz, formado por um amalgama de estilos que representa a gênese do fusion como gênero musical e leva o improviso do free jazz em sua alma.
Miles estava descobrindo novos sons e artistas de fora do jazz, o que se refletiu em sua própria música, como John Mclaughlin – guitarrista do álbum – conta em entrevista ao The Guardian: “Ele estava curioso pela nova psicodelia, estava me perguntando sobre Jimi Hendrix. Eu havia tocado com Jimi, e o amava, e Miles nunca o tinha visto, então o levei a um cinema no centro da cidade para ver o filme do Monterey Pop, onde Jimi termina o show deixando sua guitarra em chamas. Miles estava do meu lado e ficou encantado”.
Por conta dessa mistura, do talento monstruoso de Miles e do time de oito músicos convidados por ele – dentre eles, baluartes como Mclaughlin, Chick Corea e Wayne Shorter – foram concebidos mais de uma hora e meia de música cuja desenvoltura fantástica de improvisos resultaria em uma obra antológica. Como escreveu Ralph J. Gleason – um dos fundadores da Rolling Stone – para o encarte do disco, “…a música aqui fala por si só”.
John Coltrane – Sun Ship (1971)

O LP, lançado em 1971, é uma das últimas sessões gravadas pelo quarteto clássico de Coltrane – mesma formação do cultuado “A Love Supreme” (1965) – que incluía o pianista McCoy Tyner, o baixista Jimmy Garrison, e o lendário baterista Elvin Jones.
Meses após a gravação de A Love Supreme e muito influenciado pelo free jazz de Albert Ayler, Coltrane seguiria até o final de sua vida em busca de sons mais experimentais. Foi nesse contexto de exploração que o quarteto deu luz a “Sun Ship”, que marcou um ponto essencial em sua fase de transmutação sonora e de quebra de paradigmas em sua própria musicalidade, passando de um período de investigação e aperfeiçoamentos técnicos para outro de pura liberdade de expressão artística intuitiva e espiritual.
Leia o artigo completo sobre Sun Ship
Alice Coltrane – Journey in Satchidananda (1971)

Após o falecimento de seu marido John Coltrane, Alice sentiu um natural impulso de se tornar mais espiritual, como forma de entender melhor a si mesma. Ao longo da busca, visitou Swami Satchidananda, o famoso guru conhecido por ter se apresentado na abertura do Woodstock. Se tornou sua discipula e o fato de estar então muito engajada com questões espirituais se refletiu em sua obra.
Suas composições se tornaram cada vez mais influenciadas pela música africana e asiática – especialmente egípcia e indiana – ao mesmo tempo em que ainda mantinha na sonoridade uma pitada das raízes bebop – estilo que cresceu ouvindo durante a infância em Detroit. Seus primeiros discos já mostram tais inclinações, porém em Journey in Satchidananda – cujo título homenageia Swami – Alice se aprofunda e faz um tributo à suas próprias mudanças.
Acompanhada por Pharoah Sanders (sax soprano e percussões) e a parceira de longa data Tulsi, na tambura (instrumento indiano semelhante ao sitar), a compositora transcende o free jazz, criando uma linguagem própria e esplendorosa através de um intenso amálgama cultural. O LP ainda conta com os notórios baixistas Cecil McBee e Charlie Haden, além de Rashied Ali na bateria.
Dave Holland Quartet – Conference of the Birds (1973)

Aqui, o baixista Dave Holland – que havia tocado no Bitches Brew dois anos antes – entrega uma verdadeira obra de arte cheia de dinâmica, versatilidade e cor, apresentando uma coesão muito surpreendente, especialmente se tratando de um estilo musical tão estruturado a partir do improviso.
Na primeira faixa, “Four Winds” sente-se uma forte influência de Ornette Coleman, e na terceira música, que dá nome ao álbum, as flautas que a conduzem se assemelham a algo vindo de “In The Court of the Crimson King” (1969) – clássico do King Crimson.
Essa inesperada harmonia é quebrada por “Interception”, faixa mais experimental e cacofônica do LP, cuja bateria é tocada em frenesi absoluta por Barry Altschul, colada ao baixo de Holland em casamento pleno, ainda com direito a um solo que deslancha de maneira catártica ao lado do riff dos sopros de Anthony Braxton e Sam Rivers. Chama muita atenção o entrosamento entre a “cozinha” – Holland e Barry – encaixados ao mesmo tempo em que solam e tornam possíveis através de sua base os solos dos demais músicos. É assim que o LP termina, ao som de “See-Saw”, com o walking bass alucinante de Holland em unidade à bateria matadora de Barry.
- Quatro Perguntas Para Jorge Amorim - 28 de março de 2022
- Disco da semana – 16 LPs para mergulhar no fantástico caos do Free Jazz - 22 de novembro de 2021
- Disco da Semana – El Volantin e La Ventana: As Raízes do Los Jaivas - 21 de outubro de 2021


